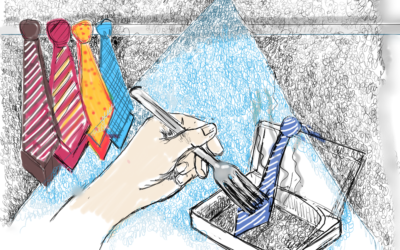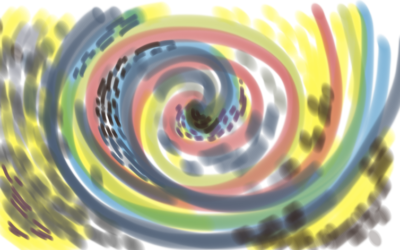Estrada, quase passando do meio-dia. De uma metade que já não mais me pertencia. O que fizera das metades e dos meios? O que, exatamente?
Carro abafado, de vidros fechados, protegendo passageiros de respingos garoa. Pouco menos de meio-dia, um percurso de quilômetros, seguidos e a seguir, e interrogações, sem destino. Era só isso que me restava. Metades, terços ou quartos.
Não era a única passageira; também não guiava. De fato, nenhum dos quatro percebia que éramos conduzidos, sutilmente; nem pelo carro, mas pela estrada.
Ficou-me triste esse pensamento, como se fizesse-se indiferente a alma conduzida a rodas. Como se fizéssemos presença apenas para cumprir com o destino da estrada. Ficou-me triste entender dessa forma, bem ali, no meio do percurso. Mas será que esse era o meio?
Então, de repente, a chuva não servia mais a aliviar atmosferas, mas a certificar-me da calma perdida. Muito menos de meio-dia me restava, muito menos de meia-vida sob os quilômetros decrescentes .
Procurei, mas não havia ângulo que me fizesse enxergar de outro modo, na perspectiva abaulada de vidro dianteiro. Não havia perspectiva que suportasse os ângulos previsíveis dos automóveis de fazer estrada. Nenhum, em absoluto. Ficamos todos presos, em movimento de rodas, sob a atmosfera quadriplégica das janelas.
Quilômetros a menos, amenos, na visão desistente de gotas em vidro. Vidro em gotas dilaceravam-me, em silêncio. E as lágrimas eram impermeáveis, que não desmanchavam, não diluíam a mágoa causada de janela impenetrável, de janela que se move o mundo sem mover. Vidro de guardar gente triste. As lágrimas escorrem e não escoam, encharcam a estrada do tempo decrescente, dos quilômetros aparentemente amenos.
Acho que todos os quatros, aos quartos, aos terços e às metades, sentíamos assim.
Lágrimas de chuva pontilham-se na carcaça de automóvel. Impressionistas, impressionantes; deixando rastros de um tanto vingança: embaçando olhos de passageiros contidos. Em vidro, in vitro, quase artificiais e comuns em destino, por mais incomuns, por mais cada um. Idênticos em destino de estrada. Meio dia que se foi… Meio dia: que será?
O pensamento às metades, fragmentando-se lágrimas de vidro, fez-me mais sensível a sons, que fez-me querer cegar, faz-me querer ler o mundo a suores e sabores. Só o cheiro de chuva, nem mais a visão da tempestade. Fez-faz querer ver sem existir protegido e morto pelos vidros abaulados. Fez-me querer ver sem resistir, sem a luta do luto pelo meio-dia já não mais era. Que era para lá de meio-dia, e eu só conseguia enxergar o que não mais se podia enxergar: um talvez passado. O passado que não mais era mas que tomava-me o meio dia de agora, que já passava de meio dia e atravessa-me a meia vida a vorazes quilômetros por hora. Decrescentes.
Talvez instinto… um resto, da pouca iniciativa que me restava como passageiro… Talvez extinto, olhei para trás. Tentando desesperadamente uma visão do passado que me embaçava as lentes janelas com os percursos programados de estrada. Será que a meia vida seria só aquilo? Resgatar o meio-dia de ontem, perdendo, quilômetro a quilômetro, o resto meio-dia em futuros? Era esse o presente? Ou era essa a morte que compartilhávamos, em silêncio permanente, passageiros, sobre rodas. Ou talvez atropelados, mortos, sob rodas do mesmo automóvel, mesmo meio-dia…
Mas assaltou-me um ângulo novo, de vidro traseiro: límpido, desembaraçado, sem nenhuma lágrimas. Não chovia na parte de trás do automóvel. Ofereceu-se uma outra perspectiva. A cidade clareou-se: havia outros, móveis, a seguirem-nos as rodas; em um céu quase festivo, pincelado, impressionista, impressionante. Mais que a chuva, mais que lágrima. Então, era aquilo, olhar para trás? Era só olhar para trás, que se desvendava, assim, o que tinha sido o meio-dia? E nem era chuva, nem era tempestade…
Nem desejei cegueira, nem mais entendi condução como prisão. Era como se voltassem-me pernas, coluna e uma juventude a qualquer meio-dia. Era como se voltasse-me, a nós, a vida; aos quatro, como fossemos um único passageiro-automóvel, sem medo de apenas… passar.
Era como se não fosse, a estrada, cenário vitrine de vidro engarrafado e automatizado, que me fazia triste e infuturo.
Condensou-se o tempo. Meio-dia que se fora, meio-dia que viria, o meio do dia em que existia. Existíamos. E o meio dia que nunca existira: a estrada era de sempre passar, agora.
Quis saltar, récem-adquirido, das cronologias ilógicas, de contra um mais um ou dois. Éramos quatro um, assaltados pelo meu olhar do vidro espontâneo, desvelando aquilo que nos escondia em minhas lutas escorridas, em lágrimas de chuva, tão frágeis, que cristal. Lutas minhas que o vidro de trás revelou serem nossas: os quatro passageiros de ser um. Ali, vivos e mortos, porque expostos ao meio-dia que não existia.
Então não resistiu-me presente, gerúndio, passado: só o verbo indicativo de ser. Surgiu-me, relâmpago, a visão de um passado-presente de rodas compartilhadas: éramos quatro, cada qual de seus muitos, ao meio-dia, e suas experiências capazes de fazer zerar os quilômetros, os ponteiros, as direções. Éramos roda e combustível. Não era o automóvel, mas a estrada que nos unia. Mas por quanto tempo? Senti um aperto, uma saudade póstuma de um algo que virá…
A chuva que existia e não existia, o vidro traseiro, as janelas embaçadas, o Sol, as lágrimas e a fragilidade dos cristais tinham um palpite: não existe tempo. Certas coisas, simplesmente resistem.